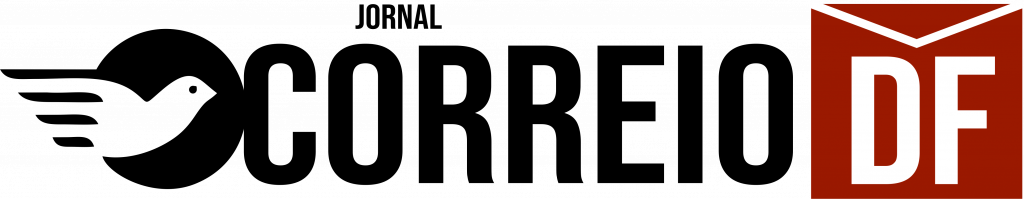Há uma semana o Senado aprovou projeto de lei que prevê a suspensão do cumprimento de qualquer determinação de despejo coletivo até o fim do ano
A família de Bebica é uma das mais de 84 mil que vivem sob ameaça de remoção em todo o Brasil, segundo levantamento da campanha Despejo Zero. Desde março do ano passado, quando teve início a pandemia de Covid-19, mais de 14 mil famílias foram despejadas no país.
Há uma semana o Senado aprovou projeto de lei que prevê a suspensão do cumprimento de qualquer determinação de despejo coletivo até o fim do ano. A regra vale para terrenos que foram invadidos até 31 de março de 2021. O projeto, porém, ainda voltará à Câmara dos Deputados para aprovação de um destaque que busca excluir os imóveis rurais do escopo da lei. Depois, será enviado para sanção presidencial.
No início de junho, o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Luís Roberto Barroso suspendeu medidas de desocupação pelos próximos seis meses -o prazo pode ser estendido caso a pandemia perdure. A decisão, no entanto, vale apenas para áreas que já estavam habitadas antes de 20 de março do ano passado.
O terreno onde mora Bebica, no Ipiranga, foi tomado em novembro de 2020 e, assim, não está incluído na determinação do ministro. Segundo os moradores, no local há 150 famílias de brasileiros e 200 de haitianos, com 300 crianças, 30 grávidas e cinco deficientes.
Por pouco todos não foram despejados. O juiz Luis Fernando Cirillo, da 1ª Vara Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo, havia agendado a desocupação do espaço para 11 de fevereiro. No mesmo dia, porém, o desembargador Jovino de Sylos suspendeu a decisão da primeira instância.
Ele entendeu que havia “sérias preocupações” a respeito das providências para que a ordem judicial fosse cumprida de forma “organizada, pacífica e sem ofensas à dignidade humana”.
Ao decidir pela desocupação do terreno, que estava vazio e cuja posse está sendo disputada na Justiça, Cirillo defendeu que não cabe ao Poder Judiciário promover políticas públicas para atender as necessidades da população. “A invasão foi perpetrada em novembro de 2020, ou seja, quando já grassava a pandemia de Covid-19. Se os riscos, consequências e necessidades de distanciamento social não impediram os protagonistas da invasão de praticá-la, não se vê por que tais aspectos devam agora ter relevância para impedir a desocupação”, escreveu o magistrado.
As decisões do Poder Judiciário a respeito de despejos coletivos têm como pano de fundo o antigo e frequente debate sobre o direito à propriedade privada e o dever de função social da terra. Em seu artigo 5°, a Constituição Federal garante o direito à propriedade, que deve atender sua função social. Já o Código Civil prevê que o dono tem o direito de reavê-la “de quem quer que injustamente a possua”. O artigo 1.228 do código, porém, também afirma que o direito de propriedade “deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais”.
O procurador da República Julio José Araujo, da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, afirma que muitas vezes os juízes fazem uma defesa “extremamente fria e absoluta” da propriedade privada, sem levar em consideração a função social. “O direito à moradia é tratado como um direito menor. Isso leva a decisões proferidas rapidamente, impactando a vida de 500 famílias, sem qualquer sensibilidade. Decisões céleres, sem audiência, sem ouvir os órgãos”, diz.
Por ter agravado as condições de vulnerabilidade da população, que em boa parte perdeu o emprego e a renda, a pandemia tem sido utilizada como argumento para suspender os despejos. Foi assim que a advogada Eliane Oliveira, da Pastoral de Favelas, conseguiu ao menos retardar a desocupação de um terreno no Pechincha, bairro da zona oeste do Rio de Janeiro. Invadido em 2009, o prédio estava abandonado e foi reformado pelas famílias que lá passaram a viver.
Os moradores se preocupam não só com a possibilidade de um futuro sem moradia, mas também com o prejuízo de anos de investimento financeiro em obras no edifício e nos apartamentos. “Todo mundo está angustiado e apreensivo, com medo de ser despejado. Investimos um ‘dinheirão’ e a Justiça não está nem aí”, afirma o pedreiro José Mello, 36.
A pandemia representou um enorme obstáculo na vida dos moradores, que em geral atuam como autônomos. “Tive tanta dificuldade que eu via a hora de me jogar do segundo andar. Cliente não me ligava, fiquei dois meses [sem trabalho]. Se não tivesse uma reserva para comer, eu estava ‘ferrado’”, diz Roger Silva, 48, que trabalha com reformas.
Coordenadora do Nuth (Núcleo de Terras e Habitação) da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, a defensora Viviane Tardelli afirma que é evidente a relação entre o desemprego gerado pela pandemia e a perda das condições de moradia. “A gente consegue perceber, de forma visual, como a população em situação de rua aumentou no centro da cidade. Muitas famílias relatam que buscaram esses espaços [terrenos vazios] porque ficaram desempregadas e não tinham como pagar o aluguel”, diz.
“A pandemia acentuou ainda mais o problema do direito à moradia e infelizmente ainda vamos colher efeitos durante algum tempo. O poder público vai ter que enfrentar de forma mais incisiva esse debate sobre as políticas habitacionais dirigidas à população mais vulnerável”, ela afirma. Responsável pelo cálculo oficial do déficit habitacional no Brasil, a Fundação João Pinheiro aponta que em 2019 essa insuficiência era de 5,8 milhões de moradias. O principal componente é o ônus excessivo com aluguel urbano (superior a 30% do orçamento familiar), correspondente a 3 milhões de domicílios.
A urbanista Erminia Maricato, professora aposentada da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP (Universidade de São Paulo), afirma que os valores aplicados no mercado imobiliário excluem a maior parte da população, que também não é assistida com uma política pública de habitação. “Você precisa ter uma renda de cinco salários mínimos para conseguir um financiamento. A maior parte da população não consegue”, diz.
Maricato afirma que as decisões do Poder Judiciário são pautadas pelo valor de mercado da terra. Por isso, segundo a professora, as invasões no centro de São Paulo são mais coibidas do que aquelas nos mananciais. “Por que uma ocupação no centro da cidade comove o Judiciário e mais de um milhão de pessoas pondo nossa água em risco não? Porque a terra dos mananciais não tem valor de mercado. É uma questão econômica e política. É determinado o despejo quando interessa. Quando vai passar uma via, quando alguém está reivindicando, quando o mercado imobiliário quer tirar uma favela porque desvaloriza a terra”, diz.
A urbanista indica como solução uma política habitacional que desenvolva uma reforma fundiária. Ela defende a desapropriação de propriedades que não cumprem sua função social, como determina a Constituição, o Estatuto das Cidades e o Plano Diretor Estratégico de São Paulo.
Por Redação Jornal de Brasília
Fonte:jornaldebrasilia.